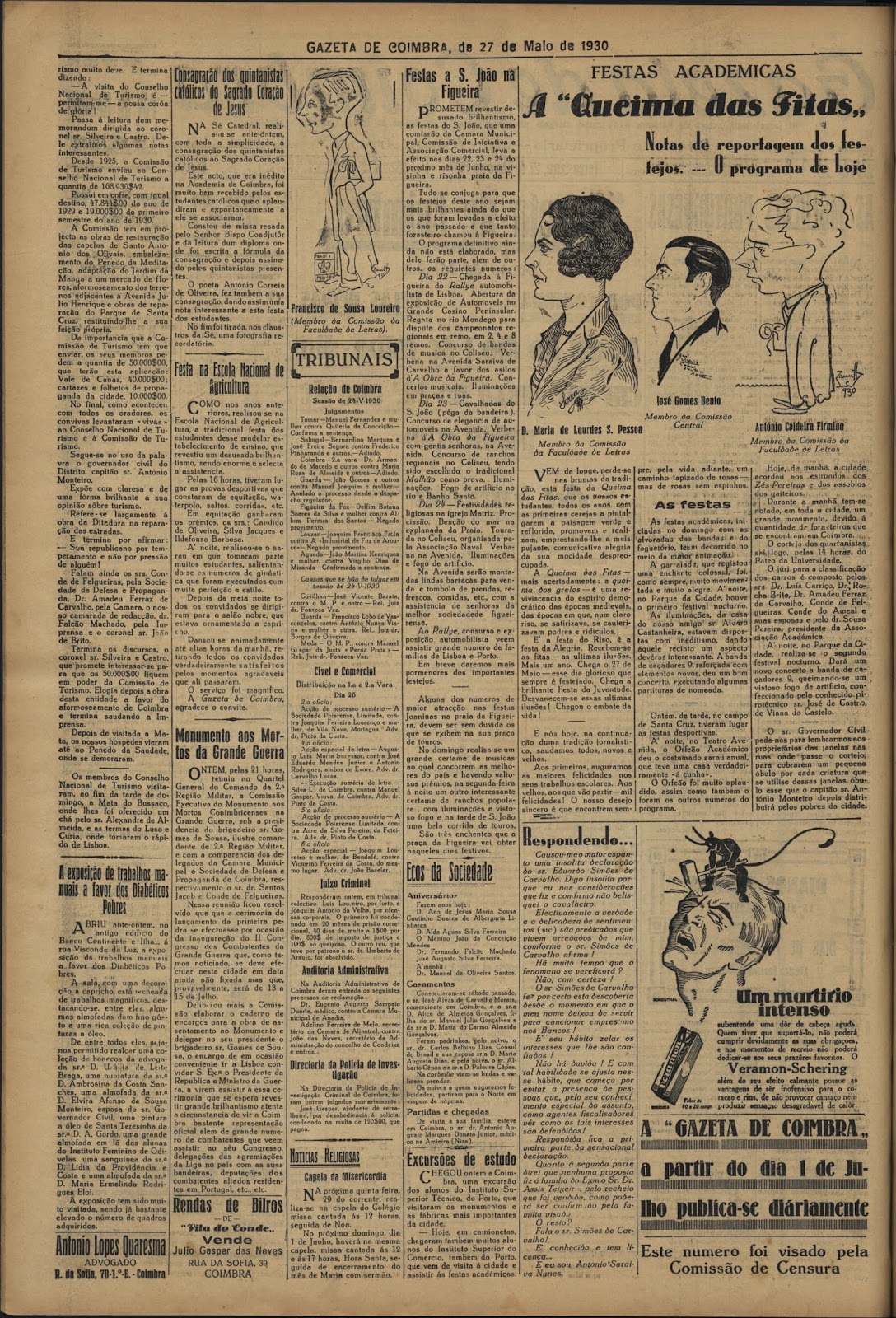Passamos, agora, a transcrever o que consta do site http://paginas.fe.up.pt/~fado/por/augustohilario.html (muito provavelmente baseado em José Niza, Fado de Coimbra II (Da Colecção “Um Século de Fado”, Edição da Ediclube, Alfragide, 1999), obra que contém diversas imprecisões (algumas das quais AQUI enunciadas).
"Augusto Hilário da Costa Alves, nasceu em Viseu em Janeiro de 1864 na Rua Nova. A data do seu nascimento é ainda uma incógnita, porquanto o registo de baptismo refere que foi “exposto na roda desta dita cidade pelas cinco horas da manhã do dia sete do dito mês e ano”, sendo baptizaso a 15 do mesmo mês e ano pelo páraco da Sé, com o nome de Lázaro Augusto. Ao receber o crisma em 26 de Maio de 1877, muda o nome para Augusto Hilário.
Frequentou o liceu de Viseu com o intuito de fazer os estudos preparatórios para a admissão à Faculdade de Filosofia, mas os anos foram passando sem que concluísse a disciplina de filosofia.
Matriculou-se em Coimbra, mas também aí os resultados não foram famosos e revela-se então um apaixonado pela boémia coimbrã, notabilizando-se como cantor de fado e executante de guitarra. Os seus fados correram o país de lés a lés, ficando imortalizado o Fado Hilário.
Em 1889-90, foi examinado no liceu de Coimbra e tendo feito uma prova admirável foi aprovado com boa classificação. Matriculou-se então no 1º ano de Medicina, tendo assentado praça na Marinha Real para obviar à falta de recursos, recebendo um subsídio do Estado.
A sua actividade de fadista e trovador era conhecida pelo país inteiro, em particular na Academia Coimbrã onde era o “Rei da Alegria”. O seu esmerado trato e a sua cordialidade faziam dele o grande animador dos serões académicos. Nos seus fados, interpretou poemas de Guerra Junqueiro, António Nobre, Fausto Guedes Teixeira, para além dos que ele próprio criou.
Parte alta da sua vida de fadista foi a participação na festa de homenagem ao grande poeta João de Deus que se realizou em Lisboa no Teatro D. Maria II, a que se associou a Academia de Coimbra e onde participaram entre outros o Prof. Doutor Egas Moniz. No decorrer do espectáculo, após a sua intervenção e em plena apoteose do público presente, Hilário atirou para o meio da multidão a sua guitarra, da qual nunca mais nada se soube. O Ateneu Comercial de Lisboa a 2 de Junho de 1895, oferece-lhe aquela que foi a sua derradeira guitarra e que se encontra actualmente na posse do Museu Académico de Coimbra, por especial oferta da família.
Como poeta escreveu dezenas de quadras que se imortalizaram nos seus fados e das quais se destacam Fado Hilário (36 quadras); Novos fados do Hilário, recolha de um conjunto apreciável de quadras; Carteira de um Boémio, conjunto de versos manuscritos de que se ignora o seu paradeiro.
A sua grande capacidade de improvisar fazia dele uma figura popular e sublime que entusiasmava quem o ouvia tendo actuado em Viseu, Coimbra, Lisboa, Espinho e Figueira da Foz, entre outros lugares.
Foi uma hora de luto nacional aquela que o ceifou à vida no dia 3 de Abril de 1896, pelas 21 horas, vitimado por uma “ictericia grave hypertermica”. Morreu na sua casa da Rua Nova, contando 32 anos. Frequentava então o 3º ano da Escola Médica da Universidade de Coimbra e era aspirante da Escola Naval.
O seu funeral foi imponente, com uma aparatosa multidão que o quis acompanhar até à sua última morada no cemitério da cidade de Viseu onde ficou sepultado em jazigo de família [um erro, pois nunca existiu jazigo de família]. Em carta de condolências datada de 5 de Abril de 1896, remetida de Mangualde à sua mãe pelos seus colegas é feita a síntese do sentimento académico de então:
“Está de lucto a mocidade portugueza!”
Chorado por admiradoras, amigos e conhecidos, chorado por simples amantes do fado, Hilário marcou para sempre a academia conimbricense ao enraizar-lhe a alma que lhe faltava, o fado. A admiração provocada nos seus contemporâneos levou a que o seu nome fosse dado a um jornal que se fundou em Viseu pouco tempo após a sua morte. Em 12 de Junho de 1896, surge nas bancas o Hylário, com a figura do fadista ao centro da 1ª página e tendo a guitarra como ex-libris. Semanário “imparcial e livre de quaesquer agrupamentos partidários”, assim foi também o seu homónimo.
Em 1967, a família, por intermédio da Srª Dª Maria Alice Trindade de Figueiredo, entregou ao Museu Académico de Coimbra uma das guitarras que o seu tio-avô dedilhara em muitas ocasiões e que lhe tinha sido oferecida pelo Ateneu Comercial de Lisboa quando ali se deslocou a cantar.
Em 30 de Junho de 1979, é a vez da Camara Municipal de Viseu promover uma grande homenagem ao poeta a que se associou toda a população da cidade e academia Coimbrã, tendo sido atribuído o seu nome a uma rua da cidade e descerrada uma lápide na casa onde nasceu.
Em 1 de Dezembro de 1987, a Associação Académica de Coimbra, recordou o grande Augusto Hilário, por ocasião do I Centenário da Academia, editando um desdobrável onde se podia ler um artigo escrito no Jornal dos Estudantes, de 1 de Maio de 1896, poucos dias, portanto, decorridos sobre a sua morte. É mais um testemunho da dor que a morte da fadista provocou no coração de todos os estudantes, futricas e tricanas de Coimbra."
É uma efeméride singular esta, de um icone nacional que foi transversal na sociedade portuguesa, alcançando o estatuto de mito, razãopela qual questionamos, aqui, a razão de também este grande símbolo não ter sido elegível para o Panteão Nacional, já que muito mais do que uma bandeira de Coimbra, mas do fado, dos estudantes e da cultura nacional, ainda hoje recordado, cantado, celebrado, querido por todos, passados todos estes anos.
Fomos, por isso, a Viseu, para vos trazer alguns artigos publicados na imprensa local (neste caso nos periódicos "A Liberdade" e "O Comércio de Viseu"), a que somámos mais um ou outro ("Occidente" e "Branco e Negro") que fomos desencantar na Hemeroteca de Lisboa, sobre o que dele se escreveu após o seu falecimento.
Mas fique certo o nosso prezado leitor que é apenas uma gota no oceano jornalístico de milhares de artigos publicados na altura por todos os jornais e revistas (durante meses a fio).
A Liberdade, 15 Agosto 1889, 19 Anno, nº 976, p.2
O artigo acima é um de vários, descobertos recentemente no âmbito da investigação levada a cabo pelos autores de "QVID TVNAE? A Tuna Estudantil em Portugal", que atesta da fundação da Tuna/Estudantina de Viseu em 1889 (alguns anos antes do inicialmente pensado), pela mão de Augusto Hilário (sendo, a par com a Estudantina de Coimbra e Porto, âmbas datadas de 1888, das mais antigas tunas portuguesas documentadas).
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1494 de 21 Fevereiro de 1896, p.1
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1507 de 07 Abril de 1896 p.1
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1507 de 07 Abril de 1896 p2
---------
Branco e Negro n.º 2, Lisboa, de 12 Abril de 1896, pp.12-13
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1509 de 14 Abril de 1896 p.1
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1509 de 14 Abril de 1896 p.2
-------------------
Occidente N.º 623, de 15 de Abril de 1896, pp.87-88
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1512 de 24 Abril de 1896
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1513 de 28 Abril de 1896 p.1
Desenho publicado pelos CTT de Viseu,aquando do 125º aniversário do seu nascimento (1989)
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1515 de 05 de Maio de 1896 p.1
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1516 de 08 de Maio de 1896 p.1
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1517 de 12 de Maio de 1896 p.1
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1518 de 14 de Maio de 1896 p.1
---------------
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1519 de 19 de Maio de 1896 p.1
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1521 de 26 de Maio de 1896 p.1
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1522 de 29 de Maio de 1896 p.1
A Liberdade, Anno XXVI, nº 1523 de 02 de Junho 1896
Selo comemorativo dos 100 anos da morte de A. Hilário, lançado pelos CTT em 1996, segundo desenho/litografia de Carlos Leitão.
A Liberdade, Anno XXVI, nº 1524de 04 de Junho 1896
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1525 de 09 de Junho de 1896 p.1
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1526 de 12 de Junho de 1896 p.1
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1527 de 16 de Junho de 1896 p.1
Augusto Hilário em retrato a óleo, por Almeida e Silva, em 1896.
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1528 de 19 de Junho de 1896 p.1
A Liberdade, Anno XXVI, Nº 1529 de 23 de Junho de 1896 p.1
O comércio de Viseu, 14 Agosto 1892, VII Anno, Nº 635
O comércio de Viseu, 26 Agosto 1894, IX Anno, Nº 847
Selo em edição comemorativa dos CTT, pelo centenário da sua morte (1996) com base no desenho/litografia de Carlos Leitão.
Hylario, por Luiz d'Athayde, no semanário "O Fado".
in "Histórias do Fado" de Maria Guinot, Ruben de Carvalho e José Manuel Osório, sob o tema de "Um século de Fado", editado pela Ediclube em 1999, e distribuído pelo jornal "A Capital".
in "Histórias do Fado" de Maria Guinot, Ruben de Carvalho e José Manuel Osório, sob o tema de "Um século de Fado", editado pela Ediclube em 1999, e distribuído pelo jornal "A Capital".
Citando A.M. Nunes, trata-se de uma "pequena brochura de João Inês Vaz e Júlio Cruz, "Augusto Hilário. A alma do fado coimbrão. Breves apontamentos", Viseu, Edição da Câmara Municipal de Viseu, Janeiro de 1989. A obra foi publicada na sequência da deliberação tomada pela Câmara de Viseu na sua reunião de 28/11/1988 com vista às comemorações do 125º aniversário de Augusto Hilário. Pode considerar-se um pequeno catálogo ilustrado, contendo fotografias, certidões e outros documentos."
Ao contrário de Coimbra, Viseu não deixou de lembrar a efeméride.
Termina este artigo com um vídeo de 1990, do famoso grupo Toada Coimbrã (onde ponderam diversos amigos, com especial menção ao João Paulo Sousa) que interpreta, em colaboração com o já desaparecido Paulo Saraiva, a mais famosa composição de Augusto Hilário (o "Fado Hilário"). Um deleite. Ora vejam: