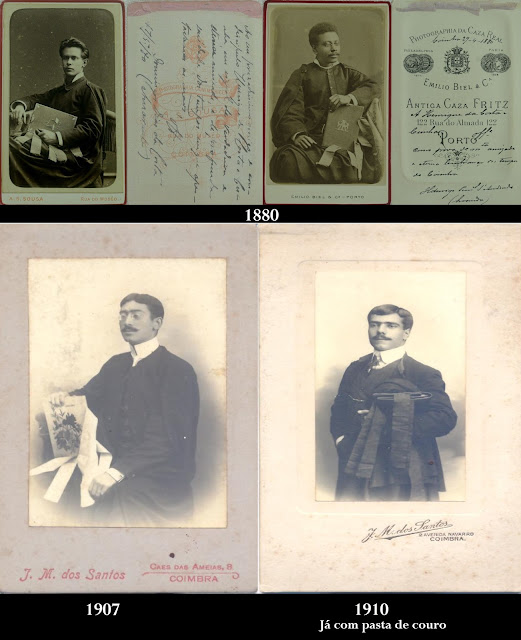Para evitar, volta e meia, estar a responder o mesmo a vários mails que são endereçados ao N&M a perguntar o mesmo, vamos aqui abordar a questão dessa coisa de andarem, alguns, a gastar energias com a contagem de peças de roupa do traje, ou se está afastado X distância da capa, com o intuito de determinar se um estudante está trajado ou se está em Praxe.
Vamos lá ver.
"Existe muita picuinhice quanto a esse assunto (por parte de quem, ridiculamente, se foca obsessivamente em contar peças de roupa ou a andar com uma fita métrica a medir distâncias entre a capa e o portador).
O traje identifica o estudante como tal. Salvo se for num café onde os "garçons" vestem calça preta e camisa branca e andam de bandeja e bloco de notas, um estudante, mesmo depois de tirar várias peças, continua facilmente identificável como tal (até porque não anda de bandeja e bloco de notas a perguntar às pessoas o que vão tomar), até porque duvido que o resto do traje esteja em casa.
Além disso, se é fora do ambiente académico ou de um momento formal, nem sequer importa à Praxe, nem ninguém em nada a ver com isso.
Não é, pois, uma questão de quantas peças se tiraram.
Se é num ambiente académico, só alguém muito tapadinho irá confundir o estudante em causa com um pedreiro."[1]
Porque falamos do uniforme estudantil, peguemos noutro uniforme, cuja etiqueta e regras de uso, e o próprio contexto, são bem mais apertados.
Um militar que saiu da caserna, para ir beber um copo, ou apanhar o autocarro para ir a casa, não está obrigado a vestir com o mesmo rigor que quando está numa parada ou em funções onde se exige estar a rigor uniformizado. Desabotoa o botão, tira o casaco, se estiver a incomodar; tira a boina e mete-a nas alças do ombro ....... e não deixou de ser soldado, não deixou de andar na tropa e muito menos deixou de estar sob alçada do regulamento militar.
É importante pensar simples, sem "complicómetros", sem excesso de zelo praxístico, especialmente quando isso não tem sustento algum na tradição académica.
 Dizem-se muitas coisas, escrevem-se muitas parvoíces em códigos de praxe (que nem dignos para papel higiénico são) e, pior ainda: seguem-se e assumem-se normas inventadas por zarolhos e seguidas dogmaticamente por cegos e amputados intelectuais.
Dizem-se muitas coisas, escrevem-se muitas parvoíces em códigos de praxe (que nem dignos para papel higiénico são) e, pior ainda: seguem-se e assumem-se normas inventadas por zarolhos e seguidas dogmaticamente por cegos e amputados intelectuais.Importa saber distinguir dois âmbitos: quando é imperativo estar trajado a rigor e quando tal não é obrigação.
Não estar sem o casaco ou sem a capa não significa não estar trajado. Nem sequer significa estar mal trajado, quando não é exigido trajar a rigor.
"Destrajado é estar sem traje. Não se está destrajado porque se tirou a batina ou a capa (ou mesmo o colete que é facultativo) ou porque o botão da camisa foi desabotoado e laçada a gravata. Não se está é trajado a rigor."[2]
O aluno que deixou a sua capa em cima das costas da cadeira, que tirou a batina porque estava calor ...........continua trajado, continua identificável enquanto aluno, continua sob alçada da Praxe, sendo que se considera que não está em condições de participar convenientemente em determinado acto onde seja próprio trajar a rigor. O facto de não estar trajado a rigor, secundum praxis, também o impede de certas prerrogativas (poder exercer gozo ao caloiro, por exemplo).
Estar mal trajado é, portanto, algo diferente de estar sem traje (destrajado). Não vamos é entrar em minudências milimétricas que, acima de tudo, entram na área de um pueril ridículo.
"Está-se mal trajado, quando é suposto, num evento formal, estar trajado a rigor e não se está.
O moço que está na esplanada, em colete, não está mal trajado.
A moça que colocou a capa nas costas da cadeira e foi à casa de banho não está mal trajada.
O moço que dobrou as mangas da camisa, porque está um calor infernal, não está mal trajado.
São apenas exemplos do uso do traje em momento informal. Num evento académico formal, nenhuma dessas situações, naturalmente, deve ocorrer, quando o protocolo manda que se esteja trajado secundum praxis."[3]
Um médico cirurgião precisa, obrigatoriamente, de usar determinada indumentária para poder operar, caso contrário não entra na sala de operações, mas não deixa de ser médico cirurgião por causa disso, nem de estar dentro do âmbito médico.
Não passa pela cabeça de ninguém que, na hora de pausa, tenha de continuar de máscara para tomar um café, e muito menos de luvas e bata operatória para almoçar. E não é por almoçar sem tudo isso que deixou de ser cirurgião ou de fazer parte do corpo médico, de poder entrar no hospital ou sequer possa assistir alguém que tenha um mal estar.
"As descrições do traje académico - refiro-me à capa e batina - que li até hoje limitam-se a elencar as peças que dele fazem parte.
Nunca, em nenhuma, li que são para andar vestidas. Em bom rigor, nós é que depreendemos que sim.
Também nunca li que fossem para andar apertadas, pelo que, em bom rigor, posso andar de batina aberta, colete e camisa abertos, gravata enrolada ao pescoço, no pulso, à cintura, braguilha aberta ou até mesmo com as meias por fora dos sapatos ou com estes pendurados nas orelhas.
Mais uma vez, nós é que depreendemos que cada coisa deverá ser usada como normalmente devem ser usadas peças de roupa semelhantes.
Esta visão radical - que não defendo, de todo - leva-nos para já a uma primeira conclusão: o traje académico é constituído por peças de roupa. E é como tal que devem ser usadas.
Independentemente de qualquer outro considerando, são as normas gerais de vestuário que prevalecem - normas de bom-senso, etiqueta e "moral" social.
O que se pode fazer com umas, pode-se fazer com as outras.
Um fato é constituído por calças e casaco do mesmo tecido e com o mesmo padrão. Usa-se camisa de colarinhos e gravata (normalmente - e para simplificar).
Vou trabalhar. Tiro o casaco para me ser confortável. Chego ao local de trabalho, saio do carro, pego no casaco dobrando-o sobre o braço porque está calor. Como não costumo usar fato no trabalho, os meus colegas começam na tanga: Ó Eduardo, vais à madrinha? Então hoje vieste de fatinho e tudo?
Como? Então eu levo o casaco dobrado sobre o braço e as pessoas dizem que eu vou de fato? Por que dirão uma coisa dessas?...
O fato não é só fato quando está completamente vestido, pois não? O mesmo acontece com o traje.
Se estou no adro à espera de que o casamento comece e estou com o casaco seguro ao ombro por um dedo e atirado para as costas, ninguém repara. Entro na Igreja, visto o casaco e assisto à cerimónia de casaco abotoado quando me levanto e desabotoado quando me sento. É o que manda a etiqueta.
O mesmo se aplica ao traje. Nas aulas, numa sessão solene, num exame, num funeral, numa serenata, num cortejo... a solenidade pede-me o mesmo que a um fato normalóide. No café, em casa a estudar, a passear pela rua, a coisa é mais descontraída.
Não estamos bem trajados ou mal trajados em absoluto. Estamos bem ou mal trajados para cada situação específica.
Se bastasse ter todas as peças do traje vestidas para se estar bem trajado, então se eu fosse para a serenata de capa pelo ombro estaria bem trajado. Mas não: estaria mal trajado... para a serenata. Se fosse de capa traçada para um funeral, estaria mal trajado... para um funeral. O mesmo se fosse para uma aula ou falasse com um professor de capa pelos ombros sem dobras.
Ora, e como se vê, "a ocasião faz a trajação" como diz o velho ditado que acabei de inventar."[4]
Alguns aspectos a ter em conta, ligados, de certa forma, à noção de trajar secundum praxis.
TRAJE LIMPO, PINS, COLHERES......
Mal trajado estará, por exemplo, quem anda com dezenas de pins na lapela, desde logo pelo aspecto carnavalesco que o seu traje, assim, dá. E, neste caso, seja em contexto formal ou informal, está inadequadamente trajado.
Sobre o uso devido de pins, é ler AQUI.
Sobre o uso devido de pins, é ler AQUI.
Mal trajado estará, por exemplo, quem usa colher de café na gravata (ver AQUI) ou pendericalhos em madeira e afins (que as lojas de artigos académicos impuseram nas barbas da inércia e incompetência das academias). Nesse caso específico, está mal trajado seja em que ocasião for.
"Mal trajado", entre aspas, está quem se apresenta num evento formal com o seu traje sujo, mal cuidado, sem aprumo.
Ter o traje limpo é prerrogativa demasiado esquecida nos códigos, quando é das normas mais importantes ligadas historicamente ao traje académico (e a qualquer uniforme corporativo).
Quando ainda lemos, em tantos códigos, ou pessoas a dizer isso à boca cheia, que a capa não se lava, estamos quem precisa de limpeza intelectual (sobre isso, ler AQUI).
USO DA CAPA
Estar mal trajado pode passar, desde logo, pelo uso incorrecto da capa.
São dezenas e dezenas os códigos que temos por aí a dizer barbaridades, quanto ao uso da capa.
 Como acima foi possível ler, quando citámos o Eduardo Coelho, usar a capa pelo ombro durante uma monumental Serenata é trajar mal, porque, nessa ocasião, ela deve usar-se traçada.
Como acima foi possível ler, quando citámos o Eduardo Coelho, usar a capa pelo ombro durante uma monumental Serenata é trajar mal, porque, nessa ocasião, ela deve usar-se traçada. Traçar a capa num momento solene (funeral, por exemplo) é trajar mal.
Ou seja, existem formas apropriadas, no que ao uso da capa diz respeito, que, não sendo observadas, colocam o indivíduo no grupo de pessoas que não estão a trajar apropriadamente, não estão a seguir a etiqueta/protocolo estipulado para esta ou aquela ocasião.
Sobre o uso correcto da capa, cliquem AQUI.
DISTÂNCIA DA CAPA
Muito implicam com essa questão, sem se perceber sequer porquê. Chegam ao supremo disparate de legislar isso em códigos (os tais que, queimados, eram um favor que faziam).
Nada há na tradição académica que imponha que um aluno não pode estar afastado da sua capa mais que X distância. Repetimos: nada!
"Cada qual é livre de deixar a sua capa onde bem quiser e à distância que lhe der na gana. Não sendo em momentos em que é preciso trajar a rigor, ninguém tem nada a ver com isso.
Mas lá está: arrisca-se a que alguém lha leve (mesmo se devem ser pontuais os roubos de capa). Mas isso é problema de quem assim opta e que depois terá de comprar outra."[5]
Claro está que, num momento formal, ela é imprescindível, porque parte do uniforme, tal como a gravata ou os sapatos.
Muitos códigos impõe a distância mínima da capa, esquecendo que isso entra, por exemplo, em conflito com 2 momentos incontornáveis da Tradição Académica: o estudante finalista desfila trajado sem capa e pode participar do Baile de Gala, dançando sem capa. Cai, logo aí, por terra, essa coisa das distâncias.
Muitos códigos impõe a distância mínima da capa, esquecendo que isso entra, por exemplo, em conflito com 2 momentos incontornáveis da Tradição Académica: o estudante finalista desfila trajado sem capa e pode participar do Baile de Gala, dançando sem capa. Cai, logo aí, por terra, essa coisa das distâncias.
Papismos é que não, quando, ainda por cima, nada há que sustente imposição de distâncias mínimas. Réguas, metros e fitas métricas não são, que se saiba, insígnias de Praxe. O único objecto que, quando muito, tem historicidade para medições é o palito (e não é para esta parvoíce sequer).
Quem legislou e inventou isso das distâncias mínimas devia ser rapado, deixando-lhe cabelo a distância mínima.
N.º DE PEÇAS E N.º ÍMPAR
Começa a enfadar essa obsessão pelos números ímpares.
Uma obsessão cuja estupidez tem o seu clímax naqueles que escrevem datas onde evitam o número par (tipo escreverem 2014 sob a forma ridícula de 2013+1). Deixem lá os números ímpares, porque isso de Praxe nada tem (ver AQUI).
Não creio ser necessário discorrer mais sobre essa coisa de mínimo ímpar de peças do traje.
COLETE E MANGAS DE CAMISA
Porque também relacionado, dizer brevemente o seguinte: o colete é uma peça de roupa facultativa. Nenhum estudante é obrigado a usá-lo.
As mangas da camisa são para estar desdobradas, em momentos formais. Anda por aí (no Porto[6], nomeadamente) a moda de andar sempre com as mangas da camisa dobradas numa interpretação equivocada e sem nexo de que não se podem ver brancos.
Trajar correctamente, num momento formal, implica ter a camisa abotoada nos punhos. E podem os punhos ver-se.
BOTÕES APERTADOS
De nada vale evocar normas de etiqueta que, segundo modas, vão dizendo que não se aperta o último botão do colete ou do casaco, ou que só se perta este ou aquele.
Dos botões do colete (o último nomeadamente), já vamos falar deles.
Dos botões do colete (o último nomeadamente), já vamos falar deles.
Em momento formal, e porque o traje é um uniforme (e não um mero fato que se leva para uma reunião importante, casório ou quejandos), os botões existentes são para estar apertados.
Mas, neste caso específico, convém evitar ortodoxias. Uma batina totalmente apertada exige-se numa cerimónia fúnebre. Num outro momento, pode apenas exigir-se que a casaca esteja fechada, sem que isso signifique estar toda abotoada.
O que não pode suceder é impor, nomeadamente por razões sem nexo (em memória disto ou daquilo), que se deixa obrigatoriamente desabotoado este ou aquele botão.
ÓCULOS DE SOL e CHAPÉUS
Já nas décadas de 50 e 60 se viam estudantes trajados de óculos de sol. Nada há, na tradição académica, que o impeça.
O que a etiqueta e as boas maneiras, mandam é que se use de forma pertinente. Estamos na rua e está sol, nada que impeça o seu uso.
A escolha de um par que não destoe do uniforme académico parece-me escusado aqui sublinhar.
Estar mal trajado é, por exemplo, dentro de um edifício, andar com os óculos postos (e, em alguns casos, sobre a cabeça).
Falar com uma entidade, de óculos postos, também se considera pouco educado, mas isso já entra na etiqueta social genérica. E usar óculos de sol quando não há sol que o justifique é, acima de tudo, palermice e comportamento de quem não tem noção.
Não está sol nenhum e a pessoa usa por mania, não está a trajar secundum praxis.
Não está sol nenhum e a pessoa usa por mania, não está a trajar secundum praxis.
O mesmo se aplica àqueles trajes de que faz parte um chapéu. Usar dentro de um edifício é inadequado e falta de educação (e, em Praxe, civismo e educação são, também, regras fundamentais). O propósito do chapéu é proteger a cabeça das intempéries ou do sol. E isso é válido tanto para o contexto académico como para outro qualquer.
CONCLUINDO
Não podemos entrar nesse enviesamento intelectual de andar a contar números de peças de roupa para determinar se alguém está, ou não, trajado.
Devemos, isso sim, saber determinar se, para cada ocasião, a pessoa está trajada conforme é suposto.
Um estudante sem esta ou aquela peça, enquanto for possível identificá-lo como tal (e aqui o contexto diz muito também) por aquilo que veste, está enquadrado e identificável como estudante.
 Não é, portanto, uma questão de peças que faltam que colocam o estudante fora do âmbito da Praxe. O que a Praxe determina é que para a cosião X ou o evento Y é preciso trajar daquela forma definida. Se o estudante não está conforme, secundum praxis, em determinado momento formal (cuja etiqueta e protocolo definem como deve apresentar-se trajado) considera-se que não está a cumprir, impossibilitado de participar devida e condignamente.
Não é, portanto, uma questão de peças que faltam que colocam o estudante fora do âmbito da Praxe. O que a Praxe determina é que para a cosião X ou o evento Y é preciso trajar daquela forma definida. Se o estudante não está conforme, secundum praxis, em determinado momento formal (cuja etiqueta e protocolo definem como deve apresentar-se trajado) considera-se que não está a cumprir, impossibilitado de participar devida e condignamente.E, em certos casos, e precisamente porque está sob alçada da Praxe, pode, em certos casos, incorrer em sanção de unhas, por exemplo.
Fora desses momentos formais, ande, pois, o estudante à vontade, com a gravata laça, o botão desapertado, a batina e capa nas costas da cadeira, as mangas arregaçada...........que ninguém tem nada a ver com isso, conquanto não seja motivo de dolo para a corporação académica.
Importa terminar, ainda assim, com o seguinte: esteja trajado a rigor ou em momento informal, o facto de usar traje académico obriga-o ao respeito e cuidado que deve ter para com o facto de aquele uniforme representar o foro académico. É a imagem do estudante que está sempre em causa, pelo que deve assistir ao uso do traje o devido civismo, brio e respeito pela sua circunstância, pela cultura de que faz parte (e trajado representa genericamente), para além da sua própria imagem como pessoa e cidadão.
U exercício sadio da cidadania académica passa por saber ser e estar, de modo a dignificar e valorizar, sempre, a cultura estudantil, a instituição em que se insere e o próprio património histórico que constitui o traje académico[7].
[1] J.Pierre Silva, in Tradições Académicas & Praxe (Facebook), 02 de Novembro de 2016.
[2] idem.
[3] idem.
[4] Eduardo Coelho, in Tradições Académicas & Praxe (Facebook), 02 de Novembro de 2016.
[5] J.Pierre Silva, in Tradições Académicas & Praxe (Facebook), 02 de Novembro de 2016.
[6] Pelos lados da FDUP, por exemplo.
[7]Especialmente o Traje Nacional, parte do conjunto patrimonial reconhecido pela UNESCO.