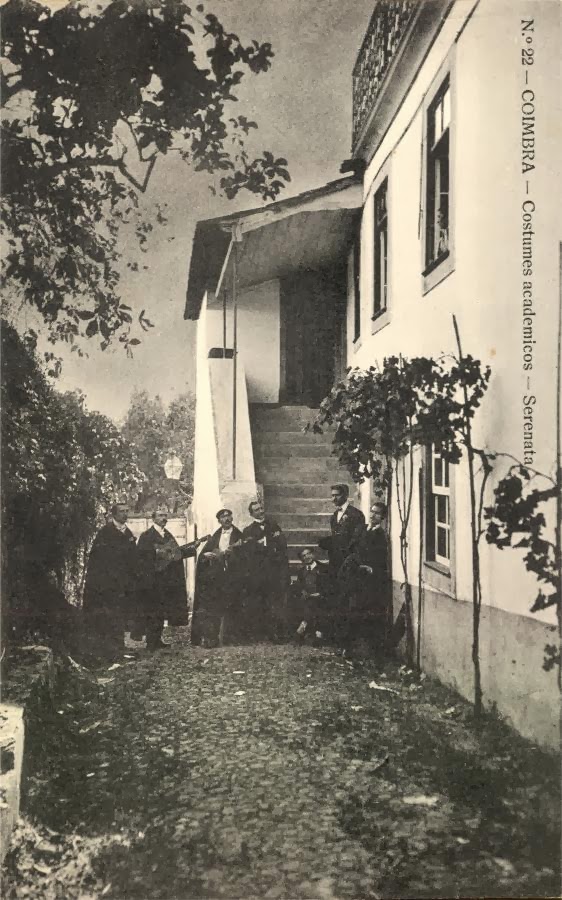"Praxe e Tradições Académicas" é o mais recente trabalho do sociólogo Elísio Estanque, o qual, nos últimos anos, se tem debruçado sobre o fenómeno das praxes estudantis.
Após uma leitura atenta, alguns considerandos se podem tecer, desde logo deixando claro que é um livro de leitura obrigatória, para quem pretende compreender e reflectir sobre os fenómenos sociológicos afectos às práticas estudantis, com especial enfoque nas conhecidas por praxes académicas.
Começaríamos por dizer que o título, de certa forma, não corresponde exactamente ao que o comum estudante, praxista ou estudioso destas coisas perspectiva.
O livro não fala, efectivamente, de Praxe, no seu sentido mais correcto, mas de Praxe no sentido em que, actualmente, demasiadas academias e estudantes o intuem, confinando o seu significado meramente aos ritos que envolvem caloiros.
Embora o autor deixe claro que situa a sua noção no contexto sociológico devido, ou seja no meio e tempo presentes (e, sob essa perspectiva, até está correcto), cremos que deveria ter, pelo menos, deixado no ar que é um conceito truncado e pervertido; resumido a praxes e pouco mais, e que, embora assuma no discurso o entendimento de hoje, reconhece que o entendimento actual de "Praxe" é, ele próprio, resultante de um fenómeno sociológico que adulterou o conceito genuíno.
Aliás, uma primeira crítica que faríamos, é precisamente quando, a páginas tantas[1], elenca as perspectivas de Praxe existentes (com base em textos publicados em vários blogues), e omite, nomeadamente, a que é apresentada por nós neste blogue, e comungada por outros blogues de referência, como o blogue "Praxe Porto"[2], entre outros, que, modéstia à parte, têm não só maior peso no meio académico, mas o fazem com o rigor da investigação, servindo de fonte e referência ao maior grupo facebookiano dedicado a estas matérias: o "Tradições Académicas&Praxe" (olimpicamente ignorado, aliás, quando as redes sociais fazem já parte do fenómeno sociológico em causa).
Não é, portanto, um livro sobre Praxe, mas sobre praxes e a sua análise sociológica.
E é nesse âmbito que deve ser lido, e aí reside a sua mais-valia, passado o equívoco provocado pelo chamariz do título.
Também não é um livro sobre Tradições Académicas, embora aborde diversas manifestações da cultura e tradição estudantis, que são pretexto para análise comportamental do contingente estudantil na vivência de algumas dessas tradições, que não um retrato histórico e diegético dessas tradições.
Não é, pois, um livro que explique Praxe ou Tradições, suas origens, significados, simbologia, etc., mas um livro que, a propósito disso, analisa, com bastante pontaria, diga-se, as motivações, comportamentos, fenómenos de sociológicos que ocorrem dentro desse meio e, muitas vezes, sob essas designações.
E quando, já mais para o final, aborda algumas manifestações da tradição (latada, cortejo da queima...), fá-lo para observar atitudes e comportamentos; constatando, portanto.
Temos alguma dificuldade em reconhecer um público alvo para esta obra, para além dos aficionados da sociologia.
Ela é algo densa e exige algum esforço para se acompanhar o leitmotiv. Com efeito, não seguindo propriamente um fio condutor intuitivo, somos levados a saltitar entre assuntos nem sempre bem colados entre eles, mesmo se cada um tratado com bastante rigor do ponto de vista sociológico e apresentando diversos testemunhos, entrevistas e dados recolhidos e tratados - resultantes do contacto directo com diversos protagonistas.
Também saudamos o facto de, sem grandes desvios, manter uma posição isenta na análise ou, pelo menos, a não prejudicar por qualquer posicionamento quanto às questões sempre controversas como são os ritos com caloiros.
Mas se este livro é, incontestavelmente, uma análise arguta e bem suportada, do fenómeno sociológico que representam as praxes, e de todos os que se vão criando debaixo do teto das tradições estudantis, peca, contudo, por diversas imprecisões, quanto a factos históricos.
Um dos lapsos detectados ocorre a propósito do salto que faz à vizinha Espanha, quando aborda a questão da extinção do foro académico naquele país (quase na mesma altura em que tal também sucede em Portugal) e da crescente rejeição de uma sociedade em mudança, empurrada pelos ideais das revoluções liberais ocorridas (levando a sucessivas proibições de praxes, com recurso a forças policiais ou militares, em Portugal), para dizer, e passo a citar, que "Também em Espanha, parte da cultura pícara seria expulsa dos claustros das universidades, sendo depois continuada pelas tunas escolares."[3].
Só que isso não corresponde inteiramente aos factos.
Com efeito, se é verdade que a cultura pícara é extinta com a abolição do foro académico em Espanha, no início do séc. XIX não existiam tunas. Aliás, as primitivas formas de associação tuneril surgem sob a designação de comparsas ou estudiantinas carnavalescas, que saíam à rua apenas no Carnaval ou para pontuais préstitos e peditórios em favor de vítimas de guerra, cheias, terramotos ou estudantes necessitados, logo desaparecendo.
Além disso, não existe qualquer registo de, mesmo a partir de 1870 (quando as tunas emergem com maior relevo, embora sem cariz permanente, ainda), de práticas de praxe dentro das mesmas, coisa que só começa a ocorrer (e de modo bem diferente) em Espanha a partir do Franquismo (e, em Portugal, a partir dos anos 70-80 do séc. XX). Além disso, as estudiantinas/comparsas nem sequer usavam traje estudantil, que fora abolido, antes usando trajes carnavalescos, dos mais variados, até a famosa Estudiantina Fígaro (a partir de 1878-79) contagiar o mundo tunante com o seu modelo estético e musical que perduraria até às primeiras décadas do séc. XX, quando os panos se fixam no actual traje de tuna espanhola que conhecemos (que nada tem a ver com traje estudantil sequer).
Não existindo tunas na época referida por Elísio Estanque, é errónea a afirmação que faz[4]. Cremos que falou, aqui, algum cuidado em documentar-se e informar-se devidamente sobre Tunas, apesar da não haver falta de informação creditada.
Uma outra passagem que suscita reticências vai para quando trata do caso específico do Porto, afirmando, e passo a citar, que "Apesar do peso da tradição ser escasso no Porto, o poder atrativo da praxe cresceu rapidamente, induzindo uma entrega quase sem limites da parte de sucessivas gerações de estudantes que forma ingressando nas instituições de ensino superior da cidade."[5].
Ora o Porto tem uma longa tradição académica e uma praxis bem enraizada, desde o séc. XIX. Da festa da pasta à queima, da tradição orfeónica passando pela tunante............... a Invicta tem pergaminhos no que toca a ter uma tradição académica[6].
Poderia não ter quanto a praxes com caloiros, mas lá está: ou bem que estamos a falar de tradições académicas ou bem que estamos a falar de praxes; e a tradição académica não se resume, nem nunca resumiu, a praxes.
Um outro erro, um pouco mais grave, em nosso entender, é quando opta por citar uma dissertação de licenciatura de uma, então, aluna, escrevendo o seguinte:
“Igualmente digno de registo é a popularidade de alguns nomes ligados ao imaginário académico, embora não estudantes, que povoaram a cidade em épocas distintas, e o papel que desempenharam no universo das representações intelectuais e estudantis.
Personagens como o Agostinho Antunes, o Pantaleão, o Pad Zé, o Castelão de Almeida, entre outros, fazem parte da história da academia de Coimbra, sendo de certo modo apropriados por essa espécie de "academia paralela" que animava os ambientes boémios e contestatários de Coimbra do passado."[7].
Ora, como bem sabemos, porque documentado, Pantaleão, Pad-Zé (Dr. Alberto Costa), Castelão de Almeida.....foram estudantes, de facto, devidamente matriculados na UC.
Esse erro histórico resulta de um excesso de confiança em fontes não verificadas, sabendo nós, tão bem, que, em matéria de Praxe e Tradições, se têm cometido verdadeiras atrocidades científicas, até mesmo em trabalhos e dissertações universitárias que passam incólumes pelo crivo pouco rigoroso de docentes também eles pouco habilitados e rigorosos nestas matérias[8].
E para fazer corresponder essas figuras aos factos, desdizendo o que essa tal de Madalena Duarte dissertou (e que incautamente o autor considerou), aqui deixo, ipsis verbis, o que muito bem respondeu o Ricardo Figueiredo na página de FB "Penedo d@ Saudade" em 14-11-2016:
"- Pad-Zé, (Dr. Alberto Costa) foi uma das figuras centrais na organização e conteúdo do “Centenário da Sebenta”, na companhia de D. Thomaz de Noronha, Luís de Albuquerque, Afonso Lopes Vieira. Acontecimento elogiado pelas autoridades universitárias, eclesiásticas e civis de Coimbra da época. Mereceu ser incluído no convite para a refeição de congratulações, pelas autoridades.
Depois, bacharel, teve um percurso, como jornalista e figura no período politico, controverso e conturbado, antes da implantação da República.
Teve nome em rua da Velha Alta (onde se litografou a primeira sebenta)e, ainda hoje, figura na toponímia do Fundão[9].
- O curso do Pantaleão lançou a venda/peditório das Pastas, com a companhia das meninas do Asilo Elysio de Moura, percorrendo a cidade, revertendo a receita para aquela instituição, o que muito sensibilizou os bem feitores e cidadãos de Coimbra.
Também, introduziu a “praxe” da cartola e da bengala, que se mantém na atualidade.
Depois, licenciado em medicina com 14 valores, o Dr. Henrique Mota foi o “João Semana” da sua região, ainda lembrado, colaborando na causa pública e no ensino. Há quem possa testemunhar a sua conduta, filantrópica e amiga.
- Castelão de Almeida, com o Pantaleão, iniciou a publicação do Jornal "O Poney" – “acérrimo defensor dos interesses da Academia de Coimbra“ (Carminé Nobre), onde se podem revisitar, com piada/crítica, acontecimentos da época.
A República Ribatejana, onde viveram Agostinho Antunes, Henrique Mota (Pantaleão) e Castelão de Almeida, foi palco privilegiado de homenagem a figuras nacionais e estrangeiras, de visita à Universidade (António Ferro, Fernanda de Castro, Humberto Cruz, Carlos Bleck e outras).
O Dr. Castelão de Almeida, licenciado em Direito, destacou-se na sua região - Alpiarça, onde é lembrada a sua conduta profissional - ação, na defesa profícua, longa e difícil, numa causa em favor de pequenos lavradores e que ganhou, contra os latifundiários da lezíria. Tem, por isso, nome de rua e placa evocativa[10].
-O Dr. Agostinho Antunes “conceituado boémio” foi, depois, “abalizado clinico”, em Lagares da Beira, com o seu nome no Largo evocativo.".
--------------------------------------------------
Esta obra faz diversas vezes referência a este nosso blogue, o que muito nos honra, mas não deixamos de constatar que, em diversos outros assuntos abordados, outros artigos nossos pudessem tê-lo sido também, especialmente no que concerne a questões ligadas aos alunos declarados (ou que são levados a declararem-se) "anti-praxe" e todas as consequências proibitivas que servem, tantas vezes, de coação dissuasora ou burlosa chantagem psicológica[11], mas também para analisar as falácias em torno do, no meio praxístico, tão apregoado lema "Dura Praxis Sed Praxis"[12]ou, ainda, quando (nas páginas 240-241) fala do rasganço[13], para só referir estes.
Não deixamos, igualmente, de estranhar que na Bibliografia (pp. 227-231), não haja qualquer menção à maioria dos blogues que foram sendo referidos em nota de rodapé ao longo do livro, excepção feita ao artigo do António Nunes, constante no blogue "Guitarras de Coimbra (Parte I)", o qual aparece devidamente referenciado (p. 231), como é próprio.
Esquecimento, falta de cortesia....?
Falta de menção devida, diríamos nós.
Não deixamos, igualmente, de estranhar que na Bibliografia (pp. 227-231), não haja qualquer menção à maioria dos blogues que foram sendo referidos em nota de rodapé ao longo do livro, excepção feita ao artigo do António Nunes, constante no blogue "Guitarras de Coimbra (Parte I)", o qual aparece devidamente referenciado (p. 231), como é próprio.
Esquecimento, falta de cortesia....?
Falta de menção devida, diríamos nós.
Para não tornarmos fastidioso este artigo, apontamos algumas páginas cujo conteúdo merece destaque, e deve suscitar reflexão crítica por parte, nomeadamente, dos estudantes e organismos praxísticos (para já não dizer dos pais dos alunos):
- páginas 28-31;
- páginas 97-98;
- páginas 137-144;
- páginas 145-147;
- páginas 156-176;
- página 179;
- página 194 (com a revelação de que o Dux de Coimbra recebe 1% do lucro da Queima, que aplica nas despesas do MCV);
- página 217-226 (síntese conclusiva).
Contas feitas, e ignorando algumas imprecisões, é uma obra a não perder.
É verdade que não é uma obra sobre Praxe e Tradições Académicas, mas essencialmente sobre os ritos com caloiros e os diversos fenómenos sociológicos que ocorrem no contexto estudantil universitário, mas que se aconselha vivamente.
Ficou a faltar, em nosso entender, uma mais clara confrontação tripartida desse apaixonante e controverso fenómeno das praxes aos caloiros:
1.º das antigas investidas até ca. 1910-30 (entre 1910 e 3 ca. 1930 existe uma hiato com avanços e recuos), em que esses rituais envolviam muitos excessos e muita violência, mas que, de certo modo, estavam em linha com os usos e costumes, regras de educação e civilidade da época, pelo que toleradas a maioria das ocorrências que não envolvessem casos graves, como aliás refere A. Nunes, quando diz, e passo a citar:
"Contrariamente ao que se possa pensar, esta violência ritualizada, e veementemente condenada desde o iluminismo, pouco ou nada se distinguia das troças com que os fidalgos mimoseavam os vilões e as raparigas do povo; das penalidades infamantes vigentes nos forais e Ordenações até ao advento do Liberalismo; da defesa da honra entre rapazes de aldeias rivais; da exercitação da vingança privada nas comunidades rurais, sendo disso exemplo as latadas aos recém-casados e nubentes viúvos; as cornetadas à porta das adúlteras; os chocarreiros testamentos da Serração da Velha e Queima do Judas; o deitar pulhas, os entrudos porcos com arremesso de cinzas, ovos podres e tripas; as pancadarias dos habilidosos manejadores de paus em feiras e romarias; os insultos acompanhados de murros, taponas, escarros, sinais obscenos, palmadas nas nádegas, a coroação e sermonário dos maridos cucos/cornos."[14].
2.º De ca. 1930 a 1969, numa fase em que só mesmo nas trupes[15]podemos encontrar, de facto, laivos claros de violência e coação física sobre caloiros, sendo que, como o podem testemunhar os antigos estudantes de então, nessa época não se admitiam coisas que hoje vemos, como meter caloiros de 4, pintá-los, sujá-los, insultá-los, gritar palavrões na rua, banhos forçados, brincadeiras de cariz sexual, proibi-los de usar traje ou participar das actividades caso se recusassem ser praxados.....ou seja, uma fase de mais civilizade e brandura só interrompida, à noite, pela acção das trupes cujo castigo máximo era o rapanço (apenas a rapazes).
E, neste ponto, Elísio Estanque omite um facto importante, até mesmo quando refere as regras que regem as trupes, segundo o código de 57: é que esse código foi praticamente ignorado pela comunidade coimbrã da altura (muitos nem dele tinham efectivo conhecimento), a qual continuou a reger-se pela tradição oral[16]. Pelo que só mesmo a partir de 1980 é que, e na falta de um testemunho pessoal transmitido pelos anteriores estudantes (fruto da suspensão da Praxe e actividades académicas e 1969), foi o Código de 57 tomado como referência e base para a reintrodução das tradições.
3.º de 1980 aos nossos dias, onde há um regresso ou ressurgimento de práticas de verdadeira barbárie e reaparecem, como sucedia anteriormente a inícios do séc. XX, inúmeros casos de abusos e incidentes graves.
Embora Elísio Estanque explique o caldo social que leva a muitas dessas práticas, e até estabeleça as diferenças entre a sociedade académica de finais de 50-60 e as que se seguiram, fá-lo explorando o lado político e empenhamento associativo, mas não tão claramente entre modelos, conceitos, práticas e paradigmas de praxes.
É que, efectivamente, o que hoje temos como Praxe (na maneira como o termo é entendido, embora equivocadamente, pelos praxistas) não encontra um precedente lógico e de continuidade, e muito menos contexto favorável na sociedade - e, ainda assim, multiplicou-se a agudizou-se.
Um bom livro (mesmo ignorando a questão do título e os erros que aqui apontámos), que recomendamos vivamente, para quem quer tentar compreender e fazer uma leitura sociológica do fenómenos das praxes.
[2] Vd. nomeadamente, COELHO, Eduardo - Entre "Ir" e "Estar", a Tradição abandonar. Artigo publicado no blogue "Praxe Porto", 2013 [Em linha]
[4] Vd. COELHO, Eduardo, SILVA, Jean-Pierre, SOUSA, João Paulo e TAVARES, Ricardo - Qvid Tvnae? A Tuna Estudantil em Portugal. Euedito, 2011; SÁRRAGA, Félix O. Martin - El Traje de Tuna. Tvnae Mvndi, 2016; La Tuna para legos, Tvnae Mvndi, 2016; Mitos y evidencia histórica sobre las Tunas y Estudiantinas. Tvnae Mvndi, 2016;
[7] DUARTE, Madalena - A taberna e a boémia coimbrã – Práticas de lazer dos estudantes de Coimbra. Coimbra: FEUC (dissertação de licenciatura), 2000, citado/transcrito pelo autor, na página 72.
[8] Ao longo dos últimos anos, deparámo-nos, já, por diversas vezes, com trabalhos finais (de licenciatura ou mestrado), ou trabalhos no âmbito de uma disciplina específica do curso, publicados na internet (nos mais diversos suportes) sem qualquer rigor histórico, especialmente sobre Tunas e sobre Praxe/Tradições Académicas, com a aparente chancela dos docentes orientadores. O mais recente foi feito no âmbito de uma cadeira de comunicação social e não deixámos de apresentar queixa ao docente responsável e ao director do curso, fornecendo, concomitantemente, as provas documentais que contradiziam os erros detectados nesses trabalhos. Temos de o dizer, mesmo que em nota de rodapé: é vergonhoso isso ocorrer numa instituição de ensino superior.
[12] Vd. Notas&Melodias - Notas ao DURA PRAXIS SED PRAXIS. Artigo de 05 de Fevereiro de 2015. [Em linha]
[14] NUNES, António Manuel - As Praxes Académicas de Coimbra, Uma interpelação histórico-antropológica. Artigo publicado no blogue Guitarra de Coimbra (Parte I) a 19 de Novembro de 2005 [Em linha], com base na comunicação proferida pelo próprio nas Primeiras Jornadas “As Praxes Académicas - Sentido actual e perspectivas”, promovidas pelo Instituto Piaget de Viseu nos dias 29 e 30 de Abril de 2003. Trabalho publicado na revista Cadernos do Noroeste, Braga, Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, Volume 22 (1-2), ano de 2004, págs. 133-149, por gentileza do Prof. Doutor Albertino Marques.
[15] Nem mesmo os julgamentos que ocorriam nas repúblicas, os quais eram mais jocosos que outra coisa.
[16] E tanto assim é que, mais do que o testemunho de antigos estudantes nesse sentido, tal está patente na forma como as meninas, durante muito tempo, ignoraram a prescrição que o código inventou em usarem meias de vidro pretas, continuando a usar ou meias de vidro cor da pele ou meias nenhumas (Vd Blogue Notas&Melodias - Notas à Saia e Meias do Traje Académico Feminino. Artigo de 21 de Novembro de 2014).